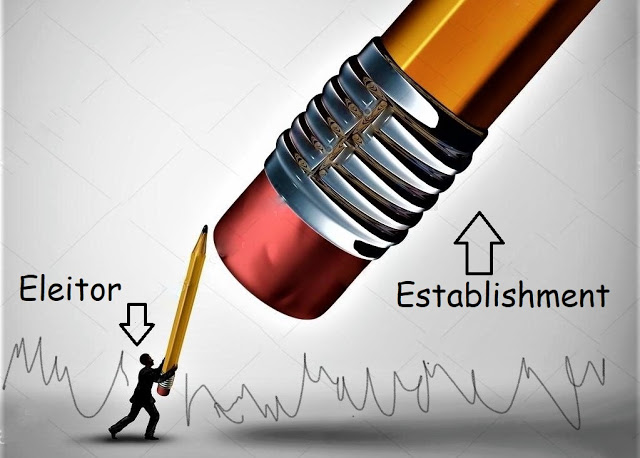As aves marinhas vêm sofrendo perdas devastadoras. Para evitar o pior, precisamos saber mais sobre elas.

FOTO DE THOMAS P. PESCHAK
Imagine um pássaro cinza esguio, tão pequeno quanto um estorninho, que passa boa parte da vida em mar aberto.
Em contato com o mar gelado e sob todas as condições meteorológicas, uma espécie de petrel, o painho-cinzento – um animal de sangue quente que pesa menos de 40 gramas –, rebusca entre as ondas os pequenos peixes e invertebrados que lhe servem de alimento. Pairando com as pernas penduradas, os dedos roçando a superfície, ele dá a impressão de caminhar hesitante sobre a água, tal como Pedro no relato bíblico.
Embora os petréis, como grupo, sejam aves abundantes, os painhos-cinzentos são raros e encontrados apenas no litoral do estado americano da Califórnia. Deles exala um característico odor almiscarado, tão intenso que se pode senti-lo mesmo quando as aves estão ocultas pelo nevoeiro. Ficam mais à vontade na água, mas, como todas as aves, dependem da terra firme para pôr os ovos e criar os filhotes. Para isso, preferem as ilhas intocadas. Para escapar à atenção dos predadores, eles fazem os ninhos no subsolo, em tocas ou em fendas na rocha, e só à noite entram e saem desses esconderijos.
Na Reserva Nacional de Fauna Silvestre das Ilhas Farallon, a 50 quilômetros a oeste da Ponte Golden Gate, em San Francisco, um grupo de artistas locais ergueu na ilha principal um precário iglu com lajes de concreto. Uma pequena porta permite que uma pessoa se arraste de quatro até um aposento revestido de acrílico. Quem for até lá numa noite de verão, talvez veja um painho-cinzento chocando pacientemente um ovo numa fenda, parecendo ainda menor e mais frágil. Ou talvez ouça o canto noturno de um de seus companheiros ocultos, emergindo da rocha como uma voz de outro mundo: o das aves marinhas, que abrange dois terços do planeta, mas continua sendo, para nós, quase todo invisível.

FOTO DE THOMAS P. PESCHAK
Até recentemente, tal invisibilidade era vantajosa para as aves marinhas, funcionando como uma espécie de manto protetor. Agora, porém, com a sua existência ameaçada por predadores de espécies terrestres invasoras e barcos de pesca industrial, essas aves necessitam da proteção humana – mas é difícil alguém se preocupar com animais que ninguém consegue ver.
Hoje as Ilhas Farallon são um portal que dá acesso ao passado, a uma época na qual, por toda parte, havia abundância de aves marinhas. Mais de meio milhão de aves nidificavam na reserva quando visitei a ilha principal em junho de 2017. Em encostas e terrenos de vegetação rala, rodeada do mar pululando com leões- -marinhos, contavam-se papagaios-do-mar-de- -penacho, airos-columbinos, biguás-sargentos, minúsculos e rechonchudos mérgulos-sombrios e, para o meu gosto, uma quantidade exagerada de gaivotas-de-pés-rosados.
Certa manhã, o biólogo Pete Warzybok, do grupo Point Blue, que colabora no monitoramento da fauna silvestre na reserva, me leva até um abrigo camuflado de madeira com vista para a metrópole dos airos. Por volta de 20 mil pássaros, em tons de preto e branco, cobrem a face inclinada de uma rocha que terminava em penhascos fustigados pelas vagas. Os airos estão apinhados, ombro a ombro, com os bicos pontudos, como pinguins, chocando ovos ou cuidando de filhotes. Vez por outra, irrompe um cacarejar suave, enquanto as gaivotas sobrevoam ameaçadoramente, à espreita de uma refeição fácil. “Os airos são assim mesmo”, comenta Warzybok. “Não são as aves mais inteligentes do mundo.”

A principal característica dos airos é a devoção conjugal. Embora não desconheçam o divórcio, tendem a manter fortes ligações monogâmicas, que perduram, às vezes, por 30 ou mais anos, com o casal retornando a cada ano ao mesmo território minúsculo para ali criar um novo filhote. Os pais compartilham as tarefas de incubação, um deles permanecendo na colônia enquanto o outro sobrevoa o oceano e mergulha para capturar anchovas, bodiões juvenis ou qualquer outra espécie disponível. Quando uma ave retorna de uma dessas prolongadas excursões forrageiras, o membro do casal que ficou para trás – cada vez mais faminto e sujo de guano – mesmo assim reluta em se afastar do ninho.
“Se eles não têm ovo”, diz Warzybok, “vão chocar uma pedra ou um troço vegetal qualquer. Chegam a colocar um peixe sobre um ovo não eclodido, na tentativa de alimentá-lo. E nunca desistem. São capazes de ficar chocando um ovo morto por 75 ou 80 dias.”
Os filhotes de airo se aventuram nas águas do mar mal completam 3 semanas, ainda jovens demais para voar ou mergulhar. Os pais os acompanham e ficam ao lado deles por meses, alimentando-os e ensinando-os a pescar, ao passo que as mães saem sozinhas para se recuperar. A devoção dos pais e a divisão equitativa do trabalho acabam sendo vantajosas. A taxa de sucesso reprodutivo dos airos nas Farallon é bem elevada, normalmente acima de 70%, o que faz deles uma das aves marinhas mais abundantes na América do Norte. Ainda que seja enorme, a colônia que Warzybok e eu visitamos abrigava menos de 5% de todos os airos existentes nas ilhas.
A atual população de airos representa uma etapa feliz de uma longa e triste história. Há 200 anos, cerca de 3 milhões de airos se reproduziam em Farallon. Em 1849, quando a corrida do ouro trouxe prosperidade a San Francisco, as ilhas viraram um alvo atraente na cidade desprovida de avícolas. Em 1851, a Farallone Egg Company estava recolhendo meio milhão de ovos de airos por ano para serem vendidos em padarias e restaurantes. Seus empregados chegavam de barco na primavera, esmagavam os ovos mais velhos e coletavam aqueles recém-postos. Nas cinco décadas seguintes, pelo menos 14 milhões de ovos de airos foram retirados das Ilhas Farallon.
Em 1910, restavam menos de 20 mil airos na ilha principal. Mesmo depois de interrompida a coleta dos ovos, as aves continuaram sendo vítimas dos gatos e cães introduzidos pelos operadores do farol local; além disso, muitas eram mortas pelo óleo despejado no mar pelos navios na Baía de San Francisco. A população de airos só conseguiria se recuperar de fato após 1969, quando a ilha principal se tornou uma reserva federal de fauna silvestre. Mas então, no início da década de 1980, a população voltou a cair.

A causa foi o método de pesca indiscriminado por meio de redes de emalhar. O uso de enormes redes na superfície do oceano resulta na captura não apenas das espécies de peixes visadas mas também de toninhas, lontras, tartarugas e aves mergulhadoras. Hoje, pelo menos 400 mil aves marinhas são mortas em todo o mundo a cada ano por essas redes de emalhe. Apenas no caso dos airos, o pedágio anual chega a ser equivalente às 146 mil aves dessa espécie mortas em 1989 por ocasião do vazamento de óleo do navio-tanque Exxon Valdez, no litoral do Alasca.
A partir de meados da década de 1980, muitos estados americanos, entre eles a Califórnia, passaram a se preocupar com os danos ambientais e impuseram regras estritas ou até mesmo proibiram o uso das redes de emalhe. Em consequência, nas Ilhas Farallon, registrou-se um aumento de aves. Nos últimos 15 anos, protegidos desse tipo de rede, e livres para viver naturalmente, os airos quadruplicaram a sua população. Hoje, a única ameaça à sobrevivência deles nas Farallon é o colapso das fontes de nutrientes em decorrência das mudanças climáticas e da sobrepesca.
Acomodado no posto de observação camuflado, Pete Warzybok vai anotando as espécies de peixe que os airos trazem aos ninhos na área de pesquisa. O argumento em prol da conservação não é apenas ético ou estético. As aves estudadas por Warzybok funcionam como dispositivos de monitoramento da pesca, como uma frota de drones vivos de pesquisa. Elas vasculham milhares de quilômetros quadrados de oceano e são especialistas em localizar alimentos. Com apenas um binóculo e um notebook, Warzybok consegue reunir mais dados sobre as atuais populações de anchovas e bodiões, e a um custo bem menor, do que conseguem, a partir de barcos, os gestores de áreas de pesca da Califórnia.
Fonte: National Geografic Brasil